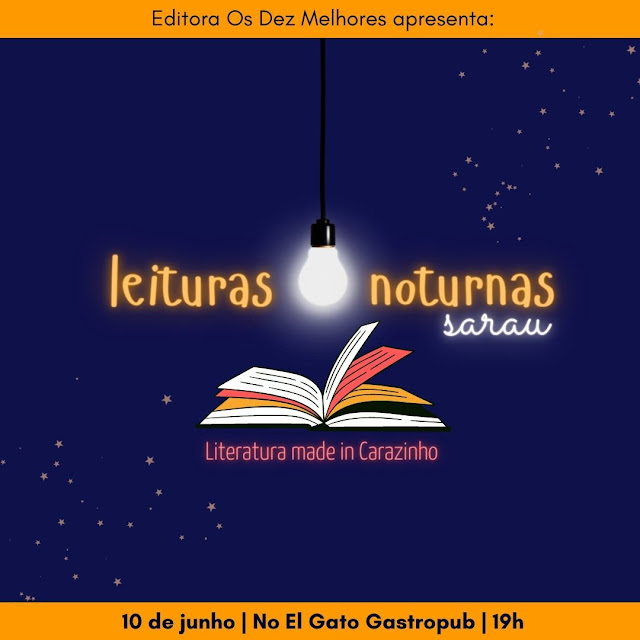Vale quanto paga
Sábado,
dia 28 de novembro de 2020, ali por 10h30 da manhã, precisei levar meu pai para
o hospital: possível crise de cálculo renal. Ele estava com tanta dor que não
conseguia caminhar. Chegamos lá e pedi uma cadeira de rodas para tirá-lo do
carro. A moça da recepção me disse: “pega uma ali dentro” e me apontou o
corredor. Sozinha eu peguei a cadeira e sozinha levei meu pai (um homem de 1.93
de altura e quase 90 quilos) da entrada para a sala de espera da emergência, na
qual umas 10 ou 15 pessoas aguardavam.
Aí
começou o teste de equilíbrio emocional e resignação.
A moça
da recepção pediu os documentos e já foi avisando: “vai demorar”. “Estamos com
apenas um médico hoje”. Eu disse: “mas meu pai está com muita dor, é urgente”.
Ela respondeu: “precisa ter um pouquinho de paciência”.
Tivemos
um pouquinho de paciência. Nada aconteceu. Meu pai gemendo de dor, quase
desacordado.
“Moça,
chama o doutor Fulano de Tal, vamos fazer particular”, eu falei, achando que
iria resolver o problema em 30 segundos. Dinheiro é a língua universal, não é?
A moça
ligou para o doutor Fulano de Tal e descobriu que ele não estava na cidade.
“Tenta
o doutor Beltrano de Tal”, eu pedi. Ela ligou. Doutor Beltrano de Tal TAMBÉM
não estava na cidade. Ela diz: “às vezes, nem pagando”. Veja só.
Na
insistência, falei com o cara que cuidava da porta que dava acesso ao interior
do hospital. Ele me disse para entrar. Nisso já haviam se passado uns 20
minutos, meia hora. Entramos, deitei meu pai numa maca. Mais uns 10 minutos.
Meu pai com dor e eu já pensando em tacar fogo no hospital. Finalmente aparece
uma enfermeira: “o que ele tem?”, ela pergunta. A gente tenta explicar, mas a
moça parece com pressa. Sem fazer nenhum exame, absolutamente nada, ela
acredita piamente em nosso diagnóstico (“achamos que é pedra nos rins”) e
resolve dar um soro para dor. Um paliativo é melhor que nada.
Somos
levados para um corredor com cadeiras e sofás, onde umas oito pessoas aguardam –
duas delas idosas, assim como meu pai. Nos colocam lá no fundo, perto de uma
parede feita de tapume, suja e mal cuidada. Não há janelas nem qualquer tipo de
ventilação.
Decido
pegar um copo d'água. Não tem. Quer dizer, tem água, mas não tem copo. Vou à
outra bombona d'água; esta não tem nem água, que dirá copo. Desisto.
Ficamos
ali. Ao meu lado, uma senhora acompanha seu marido, um senhor de idade com
dores abdominais que está deitado em um sofá porcaria, duro que nem a vida. Ele
também toma um soro, acho que parecido com o do meu pai. Enquanto seu marido
geme de dor, ela me diz que estão ali há tempo aguardando para fazer um exame,
que não aguenta mais, que tudo demora muito. Uma mocinha que já estava ali
quando chegamos avisa: “e eu, que estou aqui desde as 8h aguardando o médico?”.
Já passa do meio-dia.
Finalmente
um médico aparece, mais frio que o inverno gaúcho. Sem dar um sorriso, pergunta
o que o pai tem. A gente diz que acha que é pedra nos rins. Ele também confia
plenamente em nosso diagnóstico e, sem pedir nenhum exame, sem tirar a febre,
sem medir a pressão, sem nem ao menos tocar no meu pai, receita um remédio pra
dor e outro pra liberar a hipotética pedra. Ele pergunta: “você quer ficar no
hospital ou ir embora?”. Que porra de pergunta é essa, meu filho? O doutor está
com pressa também. Dois minutos depois ele já tinha ido embora e nunca mais o
vi na vida.
Seguimos
ali. Nenhuma enfermeira, nenhum médico, ninguém aparece, nem para ver meu pai,
nem para ver ninguém. Horas se passam. Meu pai e o senhorzinho ao nosso lado continua
gemendo de dor. A menina segue aguardando o médico. Finalmente uma enfermeira
passa e eu literalmente a pesco: “vem cá, meu anjo!”. “Precisa trocar o soro do
pai”. Ela troca. Todo mundo com muita pressa. Nesse meio-tempo, a luz do
corredor fedido onde estamos se apaga. Fica uns minutos assim. Sem água, sem
atendimento, sem ventilação e agora sem luz também.
Quando
o segundo soro termina, vou avisar as enfermeiras. Não é fácil, mas após muita
insistência, persistência e determinação, eu consigo. “O soro do pai acabou”, informo.
“Ok, ele está em alta. Você pode trazê-lo aqui para tirar o soro?”. Sim, caros
amigos. Ela pediu para eu levar meu pai, de quase 70 anos e debilitado, do
final do corredor até onde ela se encontrava para que pudesse tirar o seu soro.
Avaliei e concluí que era mais fácil fazer do que discutir. Se Maomé não vai à
montanha, a montanha que vá a Maomé. No caminho até a enfermeira, o soro
machucou a mão do meu pai, que ficou inchada.
Para resumir:
quando saímos do hospital, perto das 15h, a mão do meu pai parecia um balão,
ele seguia com dor e não havíamos feito um único exame. Na verdade nem tiraram
sua febre, não mediram sua pressão e seus batimentos, não fizeram sequer o
básico. Todos acreditaram em nosso diagnóstico amador. Quando fomos embora, o
senhorzinho seguia gemendo de dor naquele sofá ordinário e aguardando o tal
exame, que nunca vinha.
Eu sei,
não estou contando nenhuma novidade, principalmente porque esse tipo de
atendimento desumanizado não é exclusividade de Carazinho. A saúde pública no
Brasil é uma vergonha, uma obscenidade, uma barbaridade, uma imoralidade. É literalmente
criminosa.
Porém, também
sei que o problema da saúde no Brasil não é a enfermeira Fulana nem o médico
Ciclano. O problema não é a pessoa; é a estrutura.
A
estrutura que desvia recursos, paga mal e não oferece condições minimamente adequadas
de trabalho aos profissionais de saúde pública.
A
estrutura, que convenientemente não proporciona treinamento e capacitação
adequada, que não prepara para o trato com o ser humano.
A
estrutura, que forma médicos como quem forma empresários, ensinando que
pacientes são números e envolvimento emocional é um erro.
A
estrutura, que leva jovens à faculdade de Medicina não por amor ao ser humano,
mas por amor à grana e ao status, criando profissionais insensíveis e arrogantes,
robóticos e até assustadores.
Um
problema estrutural que nasce do completo descaso e descompromisso do sistema
com quem não tem dinheiro para pagar – ou, como disse a atendente, “às vezes
nem pagando”.
Às
vezes nem pagando. Mas pagando ajuda, viu?
Meu
avô, nos últimos anos de sua vida, passou muito tempo internado no hospital,
porém ele não era tratado assim. Bem pelo contrário: era tratado feito um rei.
Médicos sorridentes e atenciosos, enfermeiras bem-humoradas e interessadas, muitos
exames, muitos cuidados, muito olho no olho, uma maravilha. Até a comida era
diferente. Mas meu avô pagava, e pagava bem e mensalmente, justamente para ser
tratado feito um rei.
Eu já
fui atendida pelo mesmo médico na rede pública e particular, e a diferença de
tratamento é gritante e revoltante.
Porque respeito,
sorriso, atenção, interesse, só leva quem paga. Aqui no Brasil, sem grana, você
não consegue nem ser tratado como um ser humano. Você deixa de ser gente e vira
objeto, como um sofá ordinário esquecido em um corredor sem ventilação.
E
apesar disso, eu tenho total consciência que eu e meu pai ainda somos
tremendamente privilegiados nesta sociedade entorpecida. Somos brancos e de classe
média, com algum recurso para comprar remédios, fazer exames particulares e
inclusive pagar uma consulta médica. De modo que é impossível não pensar em
como são (mal) tratados os invisíveis, os marginalizados, os esquecidos, os
indigentes, quando adoecem.
Sim, eu
sei que nem todos os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde são assim.
Conheço muitos que não são. Profissionais que não endureceram e se importam;
que se preocupam de verdade, que olham nos olhos e sorriem; que tratam seres
humanos como seres humanos, tenham eles dinheiro ou não.
Ocorre
que eu não estou falando de indivíduos, mas do sistema, que apesar de ser feito
por indivíduos, é maior que rostos, nomes e sobrenomes, e perdura, independente
das aparentes mudanças a cada quatro anos.
E neste
sistema amorfo, o que há são exceções. Infelizmente – e não poderia ser
diferente – a maioria aprende a lição e embrutece, às vezes até para sobreviver
ao meio. A maioria ainda sucumbe e passa a seguir a cartilha desta estrutura perversa,
tornando-se mais uma peça de uma engrenagem desumana e cruel.
Quem
paga o preço por não ter grana é o povo.
Nós, no
caso.
Ah, e
só pra constar: não era pedra nos rins.